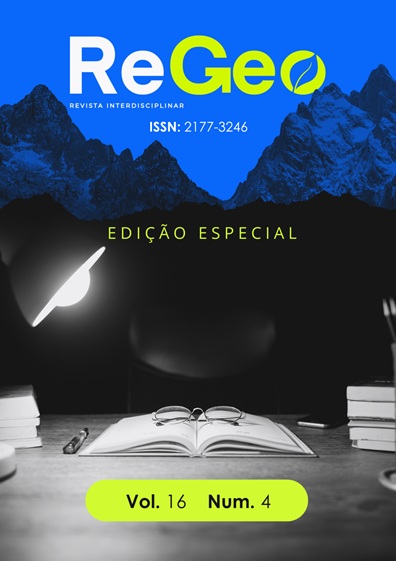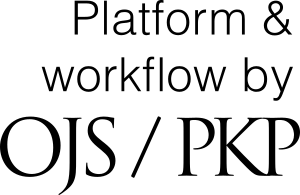A LÍNGUA PORTUGUESA NO ORDENAMENTO JURÍDICO: HERMENÊUTICA, JARGÕES E O LATIM
DOI:
https://doi.org/10.56238/revgeov16n4-074Palavras-chave:
Língua Portuguesa, Hermenêutica, Jargões Jurídicos, Ordenamento Jurídico, InterpretaçãoResumo
Este trabalho analisa a importância crucial da Língua Portuguesa para a integridade, eficácia e legitimidade do ordenamento jurídico brasileiro, partindo da premissa de que o Direito é, em sua essência, um constructo linguístico. O objetivo central é demonstrar como o domínio da norma culta e a interpretação precisa da linguagem jurídica constituem imperativos para a concretização dos princípios da segurança jurídica, da isonomia e do acesso à justiça. A pesquisa, de natureza qualitativa e bibliográfica, fundamenta-se em autores como Gadamer (2008), Streck (2011) e Marcuschi (2001), bem como na análise crítica de dispositivos constitucionais, decisões judiciais e doutrina nacional. Tal abordagem permitiu identificar que a vagueza, a ambiguidade e a permanência de um “juridiquês” arcaico configuram obstáculos à efetividade do Direito, atuando como barreiras de compreensão e de acesso para o cidadão comum. A análise evidenciou que a linguagem não se limita a ser instrumento formal de comunicação normativa, mas é condição constitutiva do próprio fenômeno jurídico, uma vez que a norma só existe quando expressa em palavras. Nesse sentido, a hermenêutica jurídica aparece como campo essencial para mediar a relação entre texto e realidade, exigindo sensibilidade linguística e rigor interpretativo. Da mesma forma, o estudo sobre os jargões técnicos revelou seu caráter ambivalente: se, por um lado, garantem precisão conceitual, por outro, quando utilizados de forma excessiva e descontextualizada, distanciam o Direito da sociedade. Conclui-se que investir em uma linguagem jurídica clara, precisa e acessível não é mera questão estilística, mas requisito fundamental para a efetivação da justiça e a consolidação do Estado Democrático de Direito. A democratização da linguagem jurídica, portanto, deve ser encarada como condição necessária para a cidadania plena e para a redução das assimetrias de poder no espaço social.
Downloads
Referências
ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2005.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 15 out. 2025.
BRASIL. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942). Brasília, DF: Presidência da República, 1942. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.htm. Acesso em: 19 out. 2025.
FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito: Técnica, Decisão, Dominação. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2003.
GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método. Petrópolis: Vozes, 2008.
JUSTINIANO. Corpus Juris Civilis. Tradução de Manoel da Cunha Lopes de Vasconcellos (Conselheiro Vasconcellos), adaptada e publicada por professores da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Edição bilíngue (latim/português). São Paulo: YK Editora, 2017.
LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. Tradução de José Lamego. 3. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2009.
MARCUSCHI, Luiz Antônio. Da fala para a escrita: atividades de retextualização. São Paulo: Cortez, 2001.
MÜLLER, Friedrich. Teoria Estruturante do Direito. Tradução de Peter Naumann e Eurides Avance de Souza. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009.
SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2014.
STRECK, Lênio. Jurisdição Constitucional e Hermenêutica. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011.